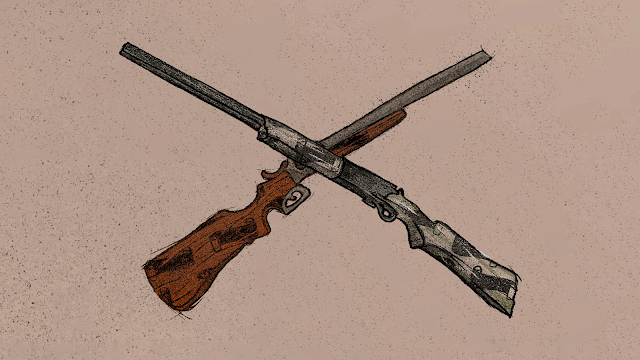Jagunços do império alimentício Maratá usam tiro, fogo e violência para tomar área de camponeses no Maranhão.
Quase todo lar maranhense tem um produto do Grupo Maratá sobre a mesa, na geladeira ou na despensa. Café, pimenta, vinagre, temperos, sucos, molhos e cuscuz são os mais comuns. A marca é onipresente no comércio da capital São Luís e nas vendinhas de uma só porta de comunidades rurais. Nelas não pode faltar o fumo Maratá, ou “porronca”, como é conhecido o fumo de corda já desfiado vendido em pacotinhos plásticos de 50 gramas.
Foi com a venda desse tipo de fumo, tão popular nas zonas rurais do norte e nordeste do país, que o dono do Grupo Maratá, o sergipano José Augusto Vieira, iniciou seu império agroindustrial nos anos 1960, na cidade de Lagarto, a pouco mais de 65 km de Aracaju, capital de Sergipe. Hoje, a empresa está em todos os estados do Brasil, possui seis plantas industriais em Sergipe e produz mais de 150 itens.
O que talvez pouca gente saiba é que para a construção de parte desse império, centenas de homens, mulheres, crianças e idosos pagaram e ainda pagam, no Maranhão, um alto preço que não é revelado ao consumidor final. Pelo menos desde 2004, funcionários da empresa expulsaram com ameaças, destruição e incêndios camponeses que vivem e trabalham na zona rural do município de Timbiras, nordeste do estado, de terras disputadas pela empresa.
A Maratá alega que as áreas são suas. O caso, no entanto, é mais um exemplo do caos da documentação de terras no Brasil – que resulta em conflitos violentos nos quais os mais fracos costumam perder. Embora a empresa tente ficar com a terra, os camponeses buscam que a justiça reconheça o direito das famílias sobre as áreas, com base em regras do Código Civil. As famílias que vivem lá ocupam a área há quase um século, de acordo com depoimentos dos camponeses entrevistados. Muito antes de a Maratá e o seu fundador existirem. O processo de reconhecimento da área em nome dos camponeses está em andamento desde janeiro de 2020.
O caderno de Conflitos no Campo Brasil de 2020, publicado pela CPT, Comissão Pastoral da Terra, aponta que o Brasil teve 1.576 conflitos por terra registrados em 2020, afetando 171.625 famílias. O Maranhão é o segundo estado mais conflituoso, com 203 ocorrências. Em primeiro lugar está o Pará, com 254 ocorrências, e em terceiro o Mato Grosso, com 166 (dados do 1º semestre de 2021). Os conflitos por terra incluem despejos, expulsões, ameaças, invasões e ações de pistolagem. Pelo menos 18 pessoas foram assassinadas no país em consequência deles.
Só no Maranhão, os conflitos no campo no ano passado afetaram 21.737 famílias. Na raiz da violência está a grilagem.
Tiros, fogo e jagunços uniformizados
Os dos ataques em 13 de agosto de 2019, três homens com uniformes da Agromaratá, o braço agropecuário do grupo, atearam fogo em casas, estruturas e na produção dos camponeses, segundo relatos dos moradores. Eles afirmam que foram destruídas residências de taipa, duas casas de produção de farinha e sacas de farinha, milho, arroz e outros alimentos que as famílias tinham produzido nas comunidades Santa Maria e Jaqueira, a cerca de 13 km da sede de Timbiras. Além de mantimentos, as vítimas relatam que foram destruídas roupas, vasilhas, redes, ferramentas e outros itens pessoais dos camponeses. Era perto de meio dia, e a maioria das pessoas estava distante das casas, trabalhando na roça.
Naquele dia, os jagunços da Maratá, depois de provocarem terror na comunidade, deram 24 horas para que as famílias fossem embora dali, segundo Cleones Batista Gomes, 43 anos, morador de Santa Maria. As famílias se arranjaram como foi possível, levando o que havia sobrado do incêndio. Quem não tinha como sair contou com a sorte.
José Francisco Pereira da Silva, 49 anos, teve a casa queimada e seu cachorro de estimação assassinado com três tiros de espingarda pelos jagunços, conforme aponta relatório do caso feito pela CPT. Egino Santos de Brito, de 66 anos, segundo moradores, teve a residência destruída. Antes de sair da comunidade, um dos funcionários da Maratá teria se aproximado de Brito e da esposa, Raimunda Pereira Araújo de Brito, 51 anos, e reforçado a ameaça de expulsão, segundo as vítimas. Em seguida, relatam, ele teria dado um tiro de espingarda para cima. Brito, que tinha problemas cardíacos, mas até então estava bem, começou a passar mal no dia seguinte, abalado com o terror vivido. Foi levado ao hospital, onde ficou internado. Morreu de infarto dias depois, em 19 de agosto.
Após o ataque, moradores e moradoras de Santa Maria e Jaqueira registraram cinco boletins de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Timbiras, mas nenhum destacamento policial foi enviado à comunidade logo no primeiro dia.
Acima a foto dos jagunços da empresa com uniforme da Agromaratá após serem detidos em operação policial. Foto: Reprodução/TV Difusora
Menos de 24 horas depois, os moradores relatam que os jagunços voltaram para entupir dois poços d’água da comunidade, atear fogo nas casas que ainda não haviam destruído e derrubar com trator aquelas cujos pilares de madeira resistiam em pé. As cenas de terror se repetiram. Armados com espingardas, os funcionários da Maratá davam tiros para cima e no tronco de palmeiras, segundo as testemunhas. Atiraram na base de um forno de torrar farinha que o fogo não consumiu. Com o furo, inutilizaram o instrumento de trabalho dos camponeses.
Em 15 de agosto, dois dias depois, mais violência e incêndios. Nesse dia, porém, a Polícia Militar resolveu aparecer. O carro com quatro PMs topou com três jagunços armados circulando em duas motos em um cenário de guerra: casas pegavam fogo, ruínas de taipa e sacas de alimento incendiadas dias antes ainda fumegavam.
De acordo com inquérito policial, ao avistarem os PMs, os jagunços abandonaram as motos, correram para a mata e atiraram em seguida. Os PMs, contaram os moradores, precisaram se proteger atrás da viatura. Quando conseguiram reagir, já não podiam mais alcançar os pistoleiros, que fugiram a pé pelo mato.
Segundo dados da CPT e depoimentos dos moradores, no saldo do terror causado pelos funcionários da Maratá em agosto de 2019, 36 casas foram queimadas e cerca de 450 pessoas perderam suas moradias e lavouras. Um cachorro foi assassinado; roupas, ferramentas e alimentos foram destruídos, e as famílias precisaram recorrer a parentes e amigos para morar e comer. Sobreviveram com doações de alimentos.
Um idoso morreu e uma camponesa de 51 anos, Maria Oleti, teve AVC dias depois, impactada pela dor e violência de ver queimados centenas de quilos de coco babaçu que ela havia juntado, quebrado e extraído as amêndoas para vender. Como sequelas, Maria ficou com problemas de memória e o rosto parcialmente paralisado.
Armas e munições apreendidas pela polícia em sede da Fazenda Vai com Deus, do Grupo Maratá. Foto: Reprodução/TV Difusora
Procurei José Augusto Vieira, dono da Maratá, para falar sobre o ataque. Quem respondeu foi o advogado da empresa, João Menezes. Ele admitiu que “o problema” foi causado por um funcionário “que se envolveu com outras pessoas na empresa e teve esse incidente” e que não houve participação de José Augusto Vieira e do grupo. “Foi uma questão deles lá. Foi aberto um inquérito policial, que está se arrastando contra essa pessoa que causou esses problemas lá, que era nosso funcionário e foi demitido por justa causa, porque a empresa não pactua com esse tipo de coisa”.
O funcionário a quem ele se referiu é Seulys Lima Franco, 36 anos, que trabalhava como gerente da Fazenda Vai com Deus, da Agromaratá. Segundo o inquérito, uma das motos utilizadas por Seulys e os outros dois jagunços, e que foi apreendida pela polícia no último dia dos ataques, está em nome de José Augusto Vieira, dono da Maratá.
Em 2 de outubro de 2019, uma operação da Polícia Civil apreendeu com Seulys Franco quatro espingardas, uma delas calibre 12, e uma pistola .40, de uso restrito da PM, além de munição, na sede da fazenda Vai com Deus. O então gerente foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e porte de arma de fogo de uso restrito. Franco foi solto semanas depois.
Em 22 de abril desse ano, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia contra o jagunço pelos crimes de ameaça e de incêndio das casas e pertences dos camponeses. A denúncia foi aceita em quatro de maio deste ano pelo juiz da comarca de Timbiras. O processo segue.
Para o advogado Diogo Cabral, que representa os camponeses, o ataque da Maratá é “uma estratégia das mais violentas de que se tem notícia no Maranhão nos últimos 25 anos”.
Normalmente, as expropriações de camponeses feitas por empresas do agronegócio no Maranhão ocorrem pelo Judiciário, por meio de ações de reintegração de posse. “Tem uma decisão judicial que determina o desalojamento compulsório das famílias e ela é cumprida. As famílias são expulsas e entra o agronegócio. Esse caso de Timbiras chama a atenção porque a Maratá não usou o poder Judiciário. Eles foram diretamente através de milícia rural”.
Imagens acima é da casa de farinha em chamas: incêndio consumiu materiais de trabalho e produção armazenada de camponeses. Fotos: CPT Maranhão
17 anos de terror
Entre os mais de 20 camponeses com quem conversei, todos foram unânimes em dizer que a violência da Maratá contra camponeses na zona rural de Timbiras só começou a ser investigada pela polícia porque, daquela vez, os pistoleiros atacaram o estado, atirando contra os policiais. Do contrário, os crimes continuariam invisíveis.
De acordo com eles e com documentos e estudos que analisei, em 2004 aconteceu perto dali, no mesmo território, outra expulsão feita por jagunços da empresa. Muitas das vítimas eram familiares mais velhos dos que foram expulsos em 2019. A estratégia foi a mesma: os capangas apareceram falando em nome da Maratá, exigindo que os camponeses saíssem das terras que supostamente pertenciam à empresa. Ameaçaram tocar fogo nas casas – e tocaram.
O irmão de Maria Oleti foi um dos expulsos naquela época. “Deram um prazo pra ele sair, e quando foi uma terça-feira, ao meio dia, ele estava almoçando, mandaram ele terminar de almoçar, pegar as coisas dele, juntar dentro do cofo [cesto de palha de babaçu] e botar no caminho, porque eles já estavam com o isqueiro. Ele não terminou de tirar as coisas de dentro de casa quando atearam fogo. Aí ele viu queimando tudo, ele se revoltou, quase teve depressão”, me contou Maria Oleti. O irmão, segundo ela, vive na zona urbana de Timbiras e nunca mais voltou para a região.
Melquisedek Gomes da Silva, 42 anos, expulso em 2019 pelos jagunços da Maratá, diz que teve uma irmã mais velha expulsa em 2004 nas mesmas condições, sob violência e fogo. Ela também não teve coragem de voltar. Melque, como é conhecido, conta que os ataques fazem parte de um processo de terror crescente que os jagunços da empresa, em moto ou a cavalo, vão impondo aos camponeses.
“Antes disso [do dia 13/08/19] eles já estavam aparecendo lá, ameaçando as pessoas, dando muito tiro, dizendo que era pra nós sair porque eles queriam a terra, que a gente tinha invadido a terra. É na luz do dia. A gente disse que procurou o Ministério Público, aí eles disseram ‘o Ministério Público fica lá, mas vocês aqui dentro vão sofrer as consequências’”.
Os homens armados expulsaram 100 famílias e queimaram mais de 100 casas na Fazenda São Raimundo, em Timbiras, segundo um artigo publicado pela professora livre-docente Maria Aparecida de Moraes Silva, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, que narra o episódio de 2004. A expulsão, diz o artigo, foi ordenada por Ricardo Reis Vieira, um dos filhos do fundador da Maratá. O objetivo da expulsão era “deixar a área limpa” para a plantação de pastagem para o gado da empresa.
“Muitos ainda não recorreram à justiça em razão do medo de represálias por parte da empresa expropriadora”, revela a professora no artigo.
O advogado da empresa não comentou os ataques de 2004.
Histórico de violações
A Maratá se tornou, nas últimas décadas, um império de alimentação. A empresa exporta sucos para a Holanda, França, Inglaterra, Itália, Israel, Áustria, Colômbia e Turquia, além de se dedicar à pecuária, citricultura e construção civil. Tem, ainda, um colégio e uma fundação dedicada a projetos sociais.
Em 2016, o fundador José Augusto Vieira recebeu do Senado o diploma José Ermírio de Moraes. O prêmio, criado em 2009, homenageia anualmente “personalidades de destaque no setor da indústria que tenham oferecido contribuições relevantes à economia nacional, ao desenvolvimento sustentável e ao progresso do país”.
Em 2019, a Secretaria de Indústria, Comércio e Energia do Maranhão, a Seinc, firmou uma parceria com a Agromaratá para instalação de dois empreendimentos de plantio e processamento de grãos nos municípios de Santa Luzia e Caxias. Representando a Maratá, dois dos participantes da reunião foram os diretores Frank e Ricardo Vieira – este último, acusado de ter ordenado a expulsão dos camponeses das terras da Fazenda São Raimundo em 2004.
Além das denúncias de violência agrária, a Maratá foi flagrada em 2005 empregando mão de obra escravizada na fazenda Sagrisa, na cidade maranhense de Codó. Na operação, 27 pessoas foram libertadas – incluindo quatro adolescentes e uma criança de 11 anos.
Fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego encontraram oito cadernos com anotações de dívidas dos funcionários, prática que configura servidão por dívida. O nome de José Augusto Vieira chegou a entrar na lista suja (click no link, não tem mais nada, rsrs) do trabalho escravo em 2006, mas foi retirado no ano seguinte após uma ordem na justiça.
A mesma fazenda Sagrisa esteve no centro de uma disputa fundiária por mais de 20 anos com moradores do território quilombola Matões dos Moreira, na zona rural de Codó.
A justiça reconheceu o direito dos quilombolas e desapropriou parte das terras. Mas não foi um período tranquilo. Nas duas décadas em que perdurou o conflito fundiário, a liderança quilombola Ana Emília Moreira Santos, de 59 anos, afirma que sequer circulava na região por medo das ameaças e seus deslocamentos eram restritos às madrugadas. À noite, dormia escondida. “Se o cara compra cinco hectares e chega dizendo que tem 50, se a gente fica aqui caladinho, vamos ficar oprimidos aqui porque não podemos falar, porque o cara do cartório é amigo dele [do grileiro]. A gente dizia [para o Incra] que o território da gente não era onde estavam dizendo, e a gente tinha consciência [de onde são os marcos históricos do território]”.
Questionei o governo estadual sobre as denúncias. A secretaria afirmou que “não pode opinar”.
Munições de espingarda deflagradas por jagunços da empresa ainda são encontradas nas comunidades quase dois anos após ataques. Foto: Sabrina Felipe
Os verdadeiros donos
Em setembro de 2020, a justiça decidiu que as terras de onde os camponeses foram expulsos em 2004 e 2019 não pertencem ao dono da Maratá. Desde 2005, um latifundiário recluso chamado José Ribamar Braine Thomé tentava provar que era o verdadeiro dono da área, e a justiça reconheceu os seus argumentos.
Na ação, Thomé alegou ser proprietário das terras denominadas fazenda São Raimundo, de 4.356 hectares, desde os anos 1950.
Em sua defesa, Ricardo Reis Vieira alegou que seu pai, José Augusto Vieira, fundador da Maratá, havia comprado 2.673,29 hectares do imóvel em 23 de novembro de 2004 de Raimundo Leonel Magalhães Araújo. Ricardo não conseguiu apresentar ao juiz documentos nem testemunhas que embasassem suas alegações. Já o rival José Ribamar Braine Thomé provou posse das terras desde os anos 1970, pelo menos.
Segundo a ação, a apropriação indevida de parte das terras de José Ribamar Braine Thomé começou quando Luís Francisco Borba, a quem Thomé arrendou parte da sua propriedade, vendeu cerca de mil hectares dela, de maneira ilegal, a Antonio Rodrigues dos Santos, um político conhecido em Coroatá. Em 1988, ele passaria a terra a outro empresário, que revenderia (ilegalmente, como seria provado décadas depois) ao dono da Maratá.
Thomé, ou apenas “seu Zeca Thomé”, como o tratam os camponeses que entrevistei, foi um homem popular nas zonas rural e urbana de Timbiras. As pessoas que entrevistei lembram-se dele – e não da Maratá – como o dono das terras em que vivem e trabalham.
Quando os camponeses precisavam, Zeca Thomé assinava documentos atestando que eles eram trabalhadores rurais para que pudessem requerer, junto ao poder público, salário-maternidade e aposentadoria, por exemplo. Se alguém precisasse de um pedaço de terra para morar ou plantar, bastava conversar com Zeca Thomé que ele concedia, contam os moradores. Em troca, ele pedia um “agrado”, algo do que os trabalhadores tivessem produzido: arroz, farinha, milho, feijão, frutas. Se não tivessem ou pudessem, não davam nada e permaneciam nas terras, afirmaram os camponeses que o conheceram.
Essa prática, chamada de “foro”, ainda é muito comum no Maranhão. Donos de terras cobram de seus arrendatários uma parte da produção – podem ser sacas de farinha, feijão, arroz, milho. O não pagamento do foro pode levar a violências contra os camponeses, quilombolas e outros povos tradicionais, praticadas por jagunços a serviço dos latifundiários.
A cobrança do foro remonta a uma prática medieval, quando o servo era obrigado a dar parte de sua produção ou prestar serviços ao senhor feudal. De acordo com os relatos, Zeca Thomé não cometia e nem permitia que cometessem violências contra seus arrendatários, mas tinha funcionários encarregados de recolher o foro dos camponeses.
Segundo fontes locais que conviveram com ele, Thomé era um homem recluso, que vivia do que seus arrendatários entregavam e de se alimentar na casa de vizinhos que cuidavam dele. A piauiense Maria Dulce Bezerra Angelim da Silva, 73 anos, dona de uma farmácia na cidade de Timbiras há 45 anos, foi uma das mais próximas de Zeca Thomé. Ela afirma que passou 42 anos nesse cuidado. A casa do amigo ficava ao lado de sua farmácia. Na residência dele, diz Maria Dulce, havia uma cama, uma rede, duas ou três cadeiras e dezenas de gatos que ele alimentava.
Uma certidão de imóvel do cartório de Timbiras aponta que as terras da Fazenda São Raimundo pertencentes a Zeca Thomé foram compradas por ele por cinco mil cruzeiros das mãos de Vituniano Teles. Segundo o documento, as terras, antes, pertenceram ao “falecido padre Aires Antonio Rodrigues Brandão”.
De acordo com Maria Dulce, Zeca Thomé, quando já estava doente, foi levado para São Luís por parentes. Nunca mais voltou a Timbiras. Os documentos da terra e das disputas estão com a família. Dulce não teve mais contato com nenhum parente dele e recebeu em 2015, por telefone, a notícia de que Zeca Thomé havia morrido em junho daquele ano. Ele tinha 89 anos.
De acordo com denúncias dos camponeses, desde o ataque de agosto de 2019 pelos jagunços da Maratá, familiares de Zeca Thomé também estão entrando em comunidades da fazenda São Raimundo, acompanhados de um homem que se diz empresário e advogado de Timbiras, ameaçando moradores, coagindo-os a comprar as terras onde vivem e, em alguns casos, obrigando-os a sair de onde estão. No início de 2021, na comunidade Poço do Boi, a casa de um camponês foi demolida por essas pessoas, e o entorno desmatado com trator, segundo denúncia dos moradores.
Procurei três advogados da família e dois parentes de Zeca Thomé, por telefone, WhatsApp e e-mail, mas não obtive retorno até o momento.
Antiga cerca elétrica colocada pela empresa em parte da comunidade Poço do Boi, na Fazenda São Raimundo. Cerca não está mais eletrificada. Foto: Ronilson Costa/CPT
‘Nosso documento é nosso suor’
As lembranças dos camponeses entrevistados sobre a vida naquelas terras do interior de Timbiras remontam a pelo menos um século. Francisco Ferreira de Castro, 59 anos, nasceu na comunidade Poço do Boi, onde seus pais e antepassados já viviam. A mãe está com 76 anos, e o pai morreu aos 76 anos em 2006.
As histórias de quem ocupa aquele lugar se repetem. São famílias de camponeses que nasceram em Timbiras, ou que vieram do Piauí e Ceará em busca de um lugar de moradia e cultivo, e acabaram encontrando aquelas terras, ainda sem o acirramento de conflitos pela grilagem.
Os camponeses não têm documentos de propriedade, mas têm a história consistente do trabalho e do cultivo da terra. “Eu mesmo comecei a trabalhar aqui dentro em 1990, minha sogra já estava aqui há muito tempo. Nós começamos a entrar pra trabalhar com autorização do Zeca Thomé, que era o que dizia ser dono dessas terras todas”, afirma o camponês Cleones Batista Gomes, 43 anos. “A gente foi parando de pagar renda [foro]. Fomos entendendo que o direito não era deles, era nosso, porque nós que trabalhava e que tinha todos os direitos aqui. A gente não tendo papéis nem documento nenhum, nosso documento é esse, nosso suor, nossa força. Nossos direitos tão aí”.
Para Antonio Claudino da Silva, de 58 anos, as terras documentadas pelo pai de Zeca Thomé são, na verdade, “terra de meio mundo de herdeiro daquele tempo dos negros que guardavam documento na casa do senhor”. O camponês se refere a uma situação histórica muito comum no Maranhão, de quando, em meados do século 19, fazendeiros em diversas partes do estado começaram a abandonar as fazendas e os escravizados em função do declínio da produção algodoeira. “Algumas povoações negras formaram-se nesse contexto de recessão econômica colonial, a partir do apossamento de terras por ex-escravizados”, explica uma publicação do Incra, autarquia do governo federal responsável pela regularização fundiária de territórios quilombolas.
Evidências materiais e narrativas indicam que a fazenda São Raimundo pode ter sido terra de quilombo. Na comunidade Poço do Boi, a cerca de 7 quilômetros de Santa Maria, existe um poço de quatro metros de diâmetro e mais de cinco metros de profundidade todo reforçado em pedra, uma construção comum nas fazendas que tinham mão de obra escravizada. O nome de uma das comunidades, São Benedito do Deserto, homenageia o santo de devoção dos negros escravizados que se viram obrigados a adotar o catolicismo para sobreviver.
Apesar de não terem a propriedade da terra, os camponeses acreditam que merecem o reconhecimento da posse, a partir das narrativas e vivências de pelo menos três gerações. Em janeiro de 2020, alguns deles, representados pelos advogados Diogo Cabral e Sérgio Barros, da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras do Estado do Maranhão, ajuizaram uma ação de manutenção de posse contra a Agromaratá. A ação também prevê o pagamento de indenização às famílias que tiveram seus bens completamente destruídos pelos jagunços da empresa. O processo segue tramitando na justiça.
Grilagem: a criação de ‘terras de papel’
Os conflitos são resultado da grilagem na região. A prática é comum nos estados que integram a Amazônia, como o Maranhão: consiste na criação de documentos falsos atestando, de forma ilegal, a propriedade de alguém sobre alguma porção de terra, principalemente sobre áreas da União.
“A grilagem acontece em dois planos. Um no chão, onde se toma a área materialmente. Pistoleiros ‘limpam’ a terra de seus ocupantes legítimos (indígenas e camponeses), e a floresta é derrubada para consolidar a apropriação. Outro plano é no papel: quando, por meio da química mágica dos cartórios ou dos órgãos fundiários, acontece o destacamento da terra do erário público e sua transferência para o patrimônio privado do grileiro. A violência é o principal instrumento de controle das terras griladas”, analisa o cientista social Maurício Torres, citado em trecho publicado em estudo de 2019 da CPT.
Como nem o governo federal nem os estados são eficientes em organizar os cadastros de propriedades coletivas de povos e comunidades tradicionais, criminosos se aproveitam da bagunça burocrática. Para piorar, esse tipo de crime ganhou força com novas tecnologias nas últimas décadas. “Esse processo é possível através de utilização de técnicas de georreferenciamento. Eles fazem o uso de novas medições com GPS, fazem o georreferenciamento da área e levam ao cartório. Como não há um controle da atividade cartorária no Maranhão, os cartórios deitam e rolam, se aproveitam dessa ausência de controle, dessa ausência de uma governança fundiária organizada, e por conta disso conseguem transformar 300 hectares em 3 mil hectares”, me disse Diogo Cabral.
“O que eu tenho identificado em Timbiras é exatamente isso: o cartório pertencia à família Alvim, e há suspeita de que muitos hectares de terras em Timbiras foram grilados em função dessa ação do cartório”.
A família à qual se refere o advogado, além de controlar a política local desde os anos 1930, também gerenciou o Cartório de Ofício Único de Registro Civil de Timbiras entre 1980 e 2010, quando os Alvim foram afastados da serventia após investigações de denúncias de fraude recebidas pela Polícia Federal. Em 2013, o Ministério Público Federal em Caxias ofereceu denúncia contra os cartorários da família Alvim e um servidor público municipal por crimes de falsidade ideológica e estelionato. A justiça acatou as acusações, e o processo está tramitando, ainda sem sentença.
Segundo a denúncia, Léa Nunes de Melo Alvim, Luiz Antônio Nunes de Melo Alvim e José Ribamar Paiva Frazão, “praticaram, de forma reiterada e contínua, ilícitos consistentes na inserção de dados falsos em documentos públicos, concorrendo para a prática de inúmeros crimes de estelionato contra a Previdência Social”.
“Durante décadas, essa família Alvim se instalou, assumiu parte do poder político do município, um município muito pobre, muito pequeno. E o poder político no Maranhão é de oligarquias rurais, então quem controla a política controla o cartório, controla a prefeitura e controla a polícia. Imagina isso durante 60 anos. Essas famílias, significativamente de várias comunidades de Timbiras, começaram a se libertar com a ação da igreja católica a partir da década de 1990”, contextualiza o advogado Diogo Cabral.
Em abril de 2020 camponeses retomaram as terras das quais foram expulsos, reconstruíram suas residências e ergueram uma nova casa de farinha coletiva. Foto: Ronilson Costa/CPT
A retomada
Em abril de 2020, os camponeses expulsos em 2019 iniciaram a retomada de suas terras, costumes e plantios.
Quando conversei com o grupo, em novembro do ano passado, 22 famílias já haviam retornado ao território e reconstruído suas casas de taipa perto de onde eram suas moradias quando foram incendiadas. Também voltaram a botar suas roças de grãos e legumes. Dois barracões para encontros comunitários foram erguidos e um poço d’água perfurado. A nova casa de farinha coletiva foi construída ao lado das ruínas da residência de Egino Santos de Brito, o “seu Gino”, que morreu de infarto agudo em 19 agosto de 2019, dias depois de ter a residência engolida pela violência da Maratá.
Os agricultores contam que funcionários da Maratá continuam circulando pelo território. Desde que a CPT Maranhão começou a acompanhar as famílias atacadas pela empresa, seus agentes passaram a ser alvo de ameaças crescentes. Nada disso, porém, inibe a retomada do território tradicional pelos camponeses.
Em fevereiro de 2021, as famílias da retomada colheram feijão verde, maxixe, quiabo, pepino e melancia, e realizaram a primeira torra da farinha.
Reportagem realizada com apoio do Rainforest Journalism Fund em associação com o Pulitzer Center.
Sabrina Felipe / The Intercept Brasil
Colaboração: